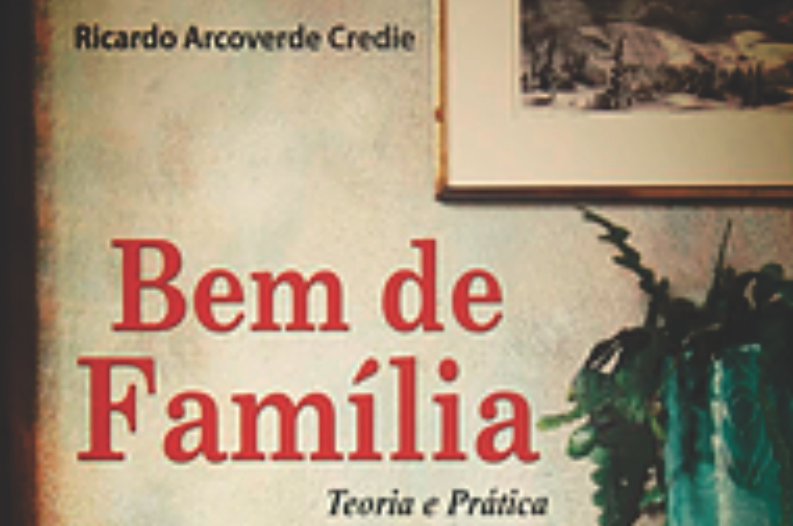A inconstitucionalidade do bloqueio de matrícula imobiliária O § 3º do art. 214 da Lei de Registros Público. A Declaração Universal dos Direitos do Homem, adotada e proclamada pela Assembléia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, no seu art. 17 dispõe: “1. Toda a pessoa, sozinha ou em coletividade, tem direito à propriedade. 2. Ninguém pode ser arbitrariamente privado de sua propriedade”.
Nossa Constituição Federal, embasada nestas diretrizes, a admitir de maneira primacial o direito de propriedade, tanto o impõe - a garanti-lo pelo art. 5º, “caput”, incisos XXII e XXIII, e art. 170, inciso II - como, nos incisos LIV e LV do mesmo art. 5o assegura que: “LIV – ninguém será privado... ...de seus bens sem o devido processo legal”, e “LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo... ...são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes”.
O devido processo legal, não é ocioso relembrar, é a: “ferramenta imprescindível à manutenção dos direitos e garantias fundamentais.
Trata-se de cláusula protetiva das liberdades públicas, contra o arbítrio das autoridades legislativas, judiciárias e administrativas... ...O indivíduo afrontado em seus direitos fundamentais poderá invocar a tutela de suas prerrogativas...” (UADI LÂMEGO BULOS, “Constituição Federal Anotada”, 6ª ed., 2005, Saraiva, SP, p. 288).
Aí está a cláusula “due process of law”, que inclui o princípio do contraditório (inciso LV do art. 5º), pelo qual o conhecimento prévio dos atos procedimentais (sejam judiciais ou administrativos) e a faculdade de contrariá-los e provar o oposto, constituem condições de validade daquele devido processo legal, sem o que não há o próprio processo e sequer o que deveria resultar de decisório nele.
Nos dias atuais ninguém pode perder a propriedade em decorrência de ato administrativo ou judicial “inaudita altera pars”. Depois da promulgação e vigência da Constituição Federal de 1988, ficou defeso decidir-se qualquer restrição ao direito de propriedade sem a ciência procedimental prévia da parte interessada e de se lhe facultar a contrariedade.
A partir desta Constituição ficou defeso a qualquer juiz ou tribunal anular ato registral imobiliário sem fazer citar a parte interessada, e sem lhe facultar a ampla defesa, circunscrita a sua atuação ao contexto do devido processo legal.
Como conseqüência, desde a promulgação da Constituição, o art. 214 da Lei de Registros Públicos (de no. 6.015, de 31.12.73) perdeu a sua anterior eficácia. Esse artigo foi então ab-rogado pelos mesmos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição, daí resultando que toda e qualquer perda ou restrição ao direito de propriedade na sua expressão registral, haverá de se submeter dialeticamente ao direito de ação e ao direito de defesa, para que se chegue a uma decisão jurisdicional (ou administrativa) eficaz.
E no âmbito desta proibição situa-se o assim denominado bloqueio administrativo.
A Carta Magna não mais permitiu às Corregedorias Gerais, ou às Permanentes de Registros Públicos, tomarem de ofício providências vulneradoras do direito de propriedade, seja pela perda de um ou de mais dos elementos integrativos desta categoria jurídica de Direito Civil.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou por isto orientação em que“REGISTRO DE IMÓVEIS. MATRÍCULA IRREGULAR. CANCELAMENTO PELO JUIZ. O cancelamento de matrícula irregular, ainda quando ordenado pelo juiz a requerimento do Ministério Público, depende de contraditório regular, compreendidos neste a prévia ciência dos interessados e a oportunidade de defesa. Recurso ordinário provido” (Rec. Ord. em MS 2322-SP, 3a. Turma, rel. Min. ARI PARGENDLER, j. 16.8.99, v.u.).
E se no direito anterior, quando aí se agia de ofício, o era para a correção de erronias comezinhas, manifestas ou evidentes, que nenhum prejuízo causariam à substância ou à essência do ato registral. Jamais a mera corrigenda aconteceria para extirpar a propriedade a alguém.
Pelo raciocínio até aqui desenvolvido, o atual § 3º ao art. 214 da Lei de Registros Públicos, cuja redação foi dada pela Lei no. 10.931, de 2 de agosto de 2004, afronta os incisos XXII, XXIII, LIV e LV do art. 5º, e art. 170, inciso II, todos da Lex Mater.
Com sua inclusão (“§ 3º - Se o juiz entender que a superveniência de novos registros poderá causar danos de difícil reparação poderá determinar de ofício, a qualquer momento, ainda que sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel”), a lei ordinária quer permitir o que a Constituição Federal, desde a sua literalidade, proíbe.
Diante desse bloqueio, os titulares do domínio ficam na verdade sem um dos atributos da propriedade, sem o direito de dispor da coisa.
Tais elementos integrativos, nos quais composto o “jus utendi, fruendi et disponendi”, são coexistentes e indissociáveis. A falta de um deles implica na inexistência de todo o direito de propriedade.
Há acórdão do Superior Tribunal de Justiça, anterior à inclusão do § 3º ao art. 214 da LRP, que afirmou, excepcional e inconstitucionalmente: “Em razão da presumida boa-fé dos adquirentes, é admissível, quando preterida alguma formalidade no registro imobiliário, a adoção provisória da providência que se convencionou chamar de ‘bloqueio administrativo’, criação pretoriana tendente a amenizar os drásticos efeitos do cancelamento, inspirada no poder geral de cautela do juiz. Resguardando eficácia residual aos assentamentos, a medida impede novos registros deles originados, antes de corrigidos os vícios formais pelos meios adequados e até que o saneamento sobrevenha, se for possível” (Recurso ordinário em mandado de segurança no. 15.315-SP, 3ª T., rel. Min. CASTRO FILHO, j. 23.09.2003, pendente de recurso extraordinário).
Mas assim não pode ser, pois nesse bloqueio há restrição tremenda ao domínio, em contrário do que se motivou no aresto, com a inarredável perda de um de seus atributos (o direito de dispor), além de o poder geral de cautela nunca poder ser exercido contra o que a Constituição determina.
Pela nova norma ora comentada ficará ao critério subjetivo da autoridade judicial (no valorar a locução vaga “dano de difícil reparação”) a perda da propriedade, muito embora - pela dicção constitucional - o juiz ou tribunal estão sempre inibidos, proibidos, de utilizar o seu poder cautelar ou mesmo o de antecipar qualquer tutela jurisdicional em hipóteses destituídas do chamamento do interessado, sem que se lhe propicie o devido processo legal.
Como nas exatas palavras de WALTER CENEVIVA: “O § 3º do art. 214 é inconstitucional, pois viola o direito de propriedade, impedindo que seu titular dele disponha, pelo entendimento isolado do juiz, sem prévia oportunidade de alegações pelo titular. Mesmo a referência a danos de difícil reparação é obscura e insuficiente. Conduz a avaliação unilateral e sem prova da suposta dificuldade e o exigido para a reparar, submetendo o titular do domínio ao arbítrio do registrador e do magistrado” (“Lei dos Registros Públicos Comentada”, 16ª ed., 2005, Editora Saraiva, São Paulo, p. 473).
Este trecho, e aqui pedimos licença ao insigne Professor, vale como conclusão do que se expõe nestas linhas.